Ofício de Caetano Pinto de Miranda Montenegro, governador da capitania de Mato Grosso, ao visconde de Anadia comunicando alguns artigos do tratado de paz que se firmou entre a Corte portuguesa e a República francesa. Um dos artigos fixa as datas em que deveriam cessar as hostilidades e promover a amizade entre as duas potências. O governador também inclui os artigos que dizem respeito aos limites franceses na parte setentrional do Brasil e avisa que a demarcação dos limites será feita em breve.
Conjunto documental: Capitanias da Bahia, Alagoas, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Piauí, São Paulo e Santa Catarina
Notação: caixa 748, pct. 02
Datas-limite: 1770-1813
Titulo do fundo ou coleção: Vice-Reinado
Código do fundo ou coleção: D9
Argumento de pesquisa: estrangeiros, franceses
Data do documento: 16 de novembro de 1801
Local: Mafra
Folha(s): -
No 71
Tendo-se ajustado felizmente a paz[1] entre a Coroa de Portugal[2], e a República francesa[3], remeto a vossa senhoria a cópia do artigo que fixa as épocas em que devem cessar as hostilidades, para que vossa senhoria o ponha em execução, publicando logo a boa inteligência, e a amizade entre as duas potências.
Também remeto a vossa senhoria a cópia dos artigos, que dizem respeito aos limites[4] com os domínios franceses[5] na parte mais setentrional do Brasil. E como temos ainda alguma esperança, que no congresso, que se vai juntar em Amiens[6], para um tratado definitivo da paz geral, se possa conseguir alguma vantagem a nosso favor sobre estes limites, deve vossa senhoria suspender tudo o que diz respeito a este objeto, até que se nomeiem comissários de ambas as partes para esta demarcação, e até que desta Corte se deem a vossa senhoria as instruções necessárias para a execução do que se acha estipulado sobre os limites das duas potências.
Deus Guarde a vossa senhoria. Mafra, em 16 de novembro de 1801.
Visconde de Anadia[7]
Senhor Caetano Pinto de Miranda Montenegro[8]
[1] Refere-se à Paz de Madrid, tratado assinado entre Portugal e França em 29 de setembro de 1801 como uma retificação da Paz de Badajoz, acordo assinado entre Portugal e a aliança entre França e Espanha, em 6 de junho de 1801, para pôr um fim a chamada Guerra das Laranjas. Este primeiro acordo previa, entre vários artigos: o fechamento dos portos portugueses à Grã-Bretanha; a perda da região lusa de Olivença para os espanhóis e uma indenização a Portugal pelas perdas sofridas durante a guerra. No entanto, Napoleão não aceitou os termos iniciais do tratado, o que levou a novas negociações, até que um novo tratado em Madrid no fim do mesmo ano de 1801 fosse assinado. Neste se estabeleceu a paz entre as nações e Portugal teria que pagar uma indenização no valor de um milhão de francos à França. Outro ponto importante da paz de Madrid foi o estabelecimento de novos limites entre o Brasil e a Guiana Francesa, cujo marco seria o rio Araguari, fazendo com que Portugal perdesse parte do território onde hoje se localiza o Amapá. Este tratado foi contestado em 1 de maio de 1808, depois da transferência da Corte para o Brasil, quando o regente d. João o deu como inválido, em decorrência das guerras peninsulares entre Portugal e França, e reavendo aquela região.
[2] País situado na Península Ibérica, localizada na Europa meridional, cuja capital é Lisboa. Sua designação originou-se de uma unidade administrativa do reino de Leão, o condado Portucalense, cujo nome foi herança da povoação romana que ali existiu, chamada Portucale (atual cidade do Porto). Compreendido entre o Minho e o Tejo, o Condado Portucalense, sob o governo de d. Afonso Henriques, deu início às lutas contra os mouros (vindos da África no século VIII), das quais resultou a fundação do reino de Portugal no século XIII. Tornou-se o primeiro reino a constituir-se como Estado Nacional após a Revolução de Avis em 1385. A centralização política foi um dos fatores que levaram o reino a ser o precursor da expansão marítima e comercial europeia, constituindo vasto império com possessões na África, nas Américas e nas Índias ao longo dos séculos XV e XVI. Os séculos seguintes à expansão foram interpretados na perspectiva da Ilustração e por parte da historiografia contemporânea como uma lacuna na trajetória portuguesa, um desvio em relação ao impulso das navegações e dos Descobrimentos e que sobretudo distanciou os portugueses da Revolução Científica. Era o “reino cadaveroso”, dominado pelos jesuítas, pela censura às ideias científicas, pelo ensino da Escolástica. Para outros autores tratou-se de uma outra via alternativa, a via ibérica, sem a conotação do “atraso”. O século XVII é o da união das coroas de Portugal e Espanha, período que iniciado ainda em 1580 se estendeu até 1640 com a restauração e a subida ao trono de d. João IV. Do ponto de vista da entrada de novas ideias no reino deve-se ver que independente da perspectiva adotada há um processo, uma transição, que conta a partir da segunda metade do XVII com a influência dos chamados “estrangeirados” sob d. João V, alterando em parte o cenário intelectual e mesmo institucional luso. Um momento chave para a história portuguesa é inaugurado com a subida ao trono de d. José I e o início do programa de reformas encetado por seu ministro Sebastião José de Carvalho e Melo, o marquês de Pombal. Com consequências reconhecidas a longo prazo, no reino e em seus domínios, como se verá na América portuguesa, é importante admitir os limites dessa política, como adverte Francisco Falcon para quem “por mais importantes que tenham sido, e isso ir-se-ia tornar mais claro a médio e longo prazo, as reformas de todos os tipos que formam um conjunto dessa prática ilustrada não queriam de fato demolir ou subverter o edifício social” (A época pombalina, 1991, p. 489). O reinado de d. Maria I a despeito de ser conhecido como “a viradeira”, pelo recrudescimento do poder religioso e repressivo compreende a fundação da Academia Real de Ciências de Lisboa, o empreendimento das viagens filosóficas no reino e seus domínios, e assiste a fermentação de projetos sediciosos no Brasil, além da formação de um projeto luso-brasileiro que seria conduzido por personagens como o conde de Linhares, d. Rodrigo de Souza Coutinho. O impacto das ideias iluministas no mundo luso-brasileiro reverberava ainda os acontecimentos políticos na Europa, sobretudo na França que alarmava as monarquias do continente com as notícias da Revolução e suas etapas. Ante a ameaça de invasão francesa, decorrente das guerras napoleônicas e face à sua posição de fragilidade no continente, em que se reconhece sua subordinação à Grã-Bretanha, a família real transfere-se com a Corte para o Brasil, estabelecendo a sede do império ultramarino português na cidade do Rio de Janeiro a partir de 1808. A década de 1820 tem início com o questionamento da monarquia absolutista em Portugal, num movimento de caráter liberal que ficou conhecido como Revolução do Porto. A exemplo do que ocorrera a outras monarquias europeias, as Cortes portuguesas reunidas propõem a limitação do poder real, mediante uma constituição. Diante da ameaça ao trono, d. João VI retorna a Portugal, jurando a Constituição em fevereiro de 1821, deixando seu filho Pedro como príncipe regente do Brasil. Em 7 de setembro de 1822, d. Pedro proclamou a independência do Brasil, perdendo Portugal, sua mais importante colônia.
[3] A referência à República Francesa se deve ao estado francês, que, em pleno processo revolucionário, extinguiu a monarquia e adotou uma nova forma de governo - a república. Esta não era exatamente uma novidade no mundo moderno. Em 1776 as treze colônias inglesas na América do Norte se libertaram do domínio metropolitano e se tornaram uma república em um mundo no qual preponderavam as monarquias, absolutistas ou constitucionais. Esse mundo, ao passo que compartilhava de estruturas ainda feudais e aristocráticas, principalmente na Europa, também vivia sob o impacto das ideias iluministas associadas à construção de um novo pacto social. A Revolução Francesa tornou-se a grande difusora dos princípios das Luzes, sobretudo o de liberdade, que passaram a ser vistos pelo mundo monárquico como os "abomináveis princípios franceses". Em 1792, depois da tentativa de fuga de Luís XVI, a Convenção decide pela extinção da monarquia, ato que culmina com a execução do rei em janeiro de 1793. Instaura-se a República na França neste período que ficou mais conhecido como o Terror jacobino, e que perdurou até 1799 quando do golpe de Napoleão Bonaparte, que instaura o Império. Este momento simboliza a recriação do pacto social, cujo novo formato seria inspirado nos ideais antigos de liberdade clássica, na qual o cidadão participa ativa e diretamente da vida pública e política do país. No entanto, não fica clara a forma de governo adotada, que mais se assemelha a uma ditadura, encabeçada por Robespierre. A primeira república consiste na radicalização do princípio democrático, inspirada no pensamento de Rousseau, que apavorou o restante do mundo do Antigo Regime, como por exemplo Portugal, ante a possibilidade de expansão das idéias que poderiam levar à independência de colônias e à queda de reis. Apesar da curta existência, representou uma grande mudança no equilíbrio de forças na Europa e inaugurou um novo tempo. Esse período, que constantemente se confunde com o terror, com jacobinismo, mas também com o exercício (ainda que problemático) da democracia, com liberdade, igualdade e fraternidade, com os direitos universais do homem, acabou sucumbindo, no dizer de José Murilo de Carvalho na Formação das Almas, por um excesso de liberdade e falta de governo - oposto do que aconteceu na vitoriosa revolução americana.
[4] A demarcação dos limites na América passou pela legitimidade dos domínios de Espanha e Portugal, provocando confrontos diretos entre as potências europeias, que buscaram, através da diplomacia, resolver as disputas existentes. As duas Coroas tiveram a necessidade de acordar entre si partilhas territoriais por meio de tratados, os quais apresentavam como aspecto inovador a instituição do rigor científico para uma melhor elaboração das delimitações, valendo-se de conhecimentos de astronomia e instrumentos matemáticos. A disputa pelos territórios da região do rio da Prata pelas metrópoles ibéricas, por exemplo, resultou numa série de tratados internacionais ao longo do século XVIII, entre eles o de Madri em 1750 e Santo Ildefonso em 1777, embora nenhum deles tenha solucionado efetivamente a questão dos limites. Em meio a estas disputas, os interesses da Inglaterra atuaram como obstáculo para a resolução das querelas territoriais na América, afetando a neutralidade lusa em relação à Espanha, pressionando a região do Prata com uma possível invasão, lembrando-se ainda a importância da colônia de Sacramento para o comércio inglês nessa área.
[5] Na América, os domínios franceses correspondiam aos territórios da Guiana Francesa, capital Caiena, que foram alvo de disputas e guerras entre França e Portugal. As relações entre Caiena e os domínios portugueses remontam ao final do século XVII. Já em fins dos setecentos, as contendas entre as duas nações sobre o estabelecimento da fronteira foram parcialmente resolvidas com o Tratado de Utrecht, de 1713-1715. Mas a questão persistiu, sendo retomada na década de 1750 no contexto das demarcações do Tratado de Madri. O governador do Estado do Grão-Pará tinha como um de seus principais objetivos resguardar a fronteira com a Guiana, o que fez através da construção da vila e fortaleza de São José de Macapá, obra que levou décadas para ser concluída. Em 1809, Caiena foi ocupada pelos portugueses e anexada aos seus domínios. Essa ação do príncipe regente d. João foi uma resposta à invasão francesa sofrida por Portugal dois anos antes. Em 1814, com a derrota de Napoleão Bonaparte, a posse da colônia voltou a ser reivindicada pelo governo francês, agora sob o domínio de Luís XVIII. Como os termos da proposta francesa não foram aceitos por d. João, a questão passou a ser discutida pelo Congresso de Viena no ano seguinte. Nessas conversações, a França concordou em recuar os limites de sua colônia até a divisa proposta pelo governo português. Entretanto, somente em 1817, os portugueses deixaram Caiena com a assinatura de um convênio entre a França e o novo Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Embora tenha durado pouco, a conquista de Caiena permitiu aos portugueses o aproveitamento, na capitania do Grão-Pará, de certas plantas raras importadas pelos franceses para plantio no jardim botânico estabelecido na região sob a denominação de La Gabrielle, que veio beneficiar a agricultura brasileira, em particular, da cana Caiena.
[6] Tratado de paz assinado entre França e Grã-Bretanha na cidade de Amiens em 27 de março de 1802, que garantiu uma trégua de 15 meses nas hostilidades entre as duas potências. Antes desse acerto, franceses e ingleses estiveram em constante guerra, fosse nos mares, por meio de suas atividades de corso e aprisionamento de navios, ou por meio de seus aliados históricos, respectivamente espanhóis e portugueses. O agravamento das hostilidades se deu com a pressão de Napoleão sobre as outras nações da Europa para aderir ao bloqueio comercial contra a Grã-Bretanha em 1806, quando o tratado já havia sido quebrado, que acabou por resultar na invasão da Península Ibérica e na transferência da Corte portuguesa para o Brasil em 1808.
[7] João Rodrigues de Sá e Melo Sottomayor (1755-1809), filho de Aires de Sá e Melo e de d. Maria Antônia de Sá Pereira e Meneses, participou ativamente do cenário político luso-brasileiro. Entre as funções e distinções que possuiu, destacam-se: senhor donatário da vila de Anadia (1787); comendador de São Paulo de Maçãs; alcaide-mor de Campo Maior; membro do conselho da Fazenda e ministro plenipotenciário em Berlim. Em reconhecimento aos serviços prestados pelo seu pai como diplomata e secretário de Estado adjunto do marquês de Pombal e depois secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, d. Maria I concedeu-lhe o título de visconde de Anadia em 1786, sendo agraciado com o título de conde pelo príncipe regente d. João em 1808. Transferiu-se junto com a Corte portuguesa para o Brasil em 1808 e exerceu o cargo de secretário de Estado da Marinha e Domínios Ultramarinos até sua morte em 1809.
[8] Nasceu no bispado de Lamego em Portugal, segundo filho de Bernardo José Pinto de Miranda Montenegro, fidalgo escudeiro da Casa Real e de d. Antônia Matilde Leite Pereira de Bulhões. Comendador da Ordem de Cristo, Montenegro seguiu a carreira das letras, frequentando a Universidade de Coimbra a partir de 1777, onde obteve o grau de bacharel em 1781. Concluiu a licenciatura em 1783, ano em que também recebeu o grau de doutor em Direito. Contemporâneo dos irmãos Andrada, José Bonifácio e Antônio Carlos, foi apresentado ao ministro Martinho de Melo e Castro por d. Catarina Balsemão – mulher de Luiz Pinto de Sousa Coutinho, futuro ministro e secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra –, senhora de grande influência na corte, que solicitou para seu afilhado, o despacho de governador do Mato Grosso. O ministro Melo e Castro, no entanto, o nomeou em 1791 para o cargo de intendente do ouro no Rio de Janeiro, permanecendo na função até 1794, quando conseguiu a patente de governador e capitão general da capitania de Mato Grosso. Permaneceu governador do Mato Grosso até 1803, e tornou-se, posteriormente, governador da capitania de Pernambuco, no período entre 1804 a 1817, inclusive durante a Revolução pernambucana. Chegou a ser nomeado governador e capitão general de Angola, mas por meio de manifestações de diversos municípios, da Câmara do Senado do Recife e de pessoas notáveis junto ao príncipe regente, foi mantido no cargo. Participou ativamente da v ida política do Império, e recebeu do Imperador d. Pedro I os títulos de barão, visconde e marquês de Vila Real da Praia Grande.
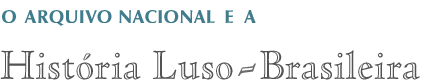
Redes Sociais